Rumamos a Dortmund, na Alemanha, para conhecer uma iniciativa da Oxalá Editora, que se dedica à descoberta e à publicação de escritores portugueses emigrados. Referimo-nos à publicação, em 2018, do livro “Contos da Emigração: Homens que sofrem de sonhos”. No site da editora, encontramos uma entrevista do responsável pelo projeto, o jornalista (?) Mário dos Santos, conduzida por Nuno Gomes Garcia, autor de um dos textos da coletânea. Abaixo, ela surge acompanhada por outra, do próprio Nuno, em que ele comenta sobre o texto que escreveu.
Nuno Gomes Garcia conversa com Mário Dos Santos
«Contos da emigração: Homens que sofrem de sonhos» é o mais recente livro, uma coletânea de 12 contos, idealizado por Mário dos Santos, fundador e editor da Oxalá Editora, uma chancela orientada para a Diáspora. Os direitos da obra reverterão em favor da Plataforma de Apoio aos Refugiados.
Sediada em Dortmund, na Alemanha, a Oxalá Editora tem por objetivo fazer chegar a voz dos 5 milhões de Portugueses que vivem dispersos pelo estrangeiro aos 10 milhões de Portugueses que vivem em Portugal, distribuindo, para esse efeito, os livros tanto dentro como fora de Portugal.
Este livro, que mistura dois autores clássicos portugueses – Eça de Queirós e José Rodrigues Miguéis – com dez autores contemporâneos (nove dos quais expatriados), explora os caminhos da emigração, tanto os da década de 1960 como os mais recentes que datam do período da crise pós-2008.
Uma obra rica, que se alicerça na variedade de registo de cada autor – alguns deles já consagrados -, indo desde a ruralidade do interior português à urbanidade londrina ou alemã; do drama à sátira, explorando o momento do «salto», a dolorosa adaptação a diferentes culturas e idiomas, passando pela discriminação e a segregação sofridas na terra de acolhimento ou, o reverso da medalha, pelos surtos xenófobos e racistas contra outras comunidades, preconceitos extremistas que alguns emigrantes portugueses também partilham.
Mário, antes de nos debruçarmos sobre o livro, falemos um pouco do teu percurso. Tu fundaste o Portugal Post, um jornal mensal publicado na Alemanha em língua portuguesa, e há pouco decidiste dedicar-te inteiramente à Oxalá Editora. O que é que te levou a mudar de rumo?
Sim, de facto, estive à frente do jornal durante 25 anos. Achei que ao fim desses anos seria o momento de passar a pasta, digamos assim, a alguém que desse continuidade a um jornal com história e muito importante para a vida da Comunidade na Alemanha. Durante o meu percurso no jornal, houve ocasiões em que pessoas se me dirigiam dizendo que tinham coisas escritas (poesia, contos, histórias da sua vida…) na gaveta e que gostariam de as verem publicadas. Algumas dessas pessoas viviam na Alemanha, mas também havia gente de outros países que me diziam que gostariam de ver os seus escritos publicados e me desafiavam para o fazer. Percebi então que fazia sentido uma editora vocacionada para os autores da Diáspora. Em 2015, decidi criar a Oxalá Editora pensando já que daí a pouco tempo entraria no gozo da reforma e que esse seria um tempo para me dedicar àquilo de que sempre gostei, os livros.
A editora que também tem edições bilingues, em português e em alemão, veio de facto preencher um vazio que era evidente. Como editor, qual é o teu principal objetivo: fazer chegar a voz da diáspora a Portugal ou promover a literatura portuguesa na Alemanha?
Sim, há edições bilingues. Gostaria de destacar a tradução para alemão da obra de Sophia de Melo Andresen, «A menina do mar». Mas a minha principal preocupação são os autores que vivem no exterior, ou seja, a Oxalá Editora não se remete apenas à Alemanha. Há, inclusivamente, propostas de parceria provenientes de outros países. A ideia é ter uma casa editora que perceba a realidade da Diáspora. Sabes tão bem como eu que em Portugal não se dá a devida importância aos Portugueses que vivem no estrangeiro, sejam eles poetas ou carpinteiros; cientistas ou concierge… Mas também é verdade que hoje se considera mais «quem vive lá fora», apesar dos preconceitos face aos emigrantes. O meu objetivo é descobrir bons autores da Diáspora, vivam eles nas Américas, na Europa ou seja lá onde for, publicá-los e divulgá-los em Portugal. Muitos têm, digamos assim, esse sonho, o de serem reconhecidos, não só nas Comunidades onde vivem, mas também, por questões sentimentais, de ligação ao país, a Portugal, onde gostariam de ver os seus livros a circular. Isso é um pouco difícil, sabemos. Quer dizer, nalguns casos até não é tão difícil assim.
Falemos do livro, então, que tem um título que resume em poucas palavras a essência do que é ser emigrante. Mas diz-nos quais os escritores que participam na coletânea. Vivem todos fora de Portugal?
Com a exceção da Ana Cristina Silva, todos os outros vivem fora de Portugal. Eu convidei-a porque ela tem uma crónica no Portugal Post.
E a Oxalá também publicou «A mulher transparente», um dos romances da Ana Cristina Silva.
Exatamente. Os outros autores vêm do Reino Unido, de França e da Alemanha. A minha preocupação foi juntar autores que vivem e sentem a diáspora e, olhando para quem pudesse representar, digamos assim, o espírito do livro, convidei a Gabriela Ruivo Trindade, vendedora do prémio Leya e que vive em Londres. Falei ao Nuno Gomes Garcia, ou seja, contigo, também com obra publicada e reconhecida. Falei ainda com uma autora que vive em Hamburgo, a Cristina Torrão, e com o Miguel Szymanski, um autor que tem a particularidade de se sentir emigrante alemão em Portugal e emigrante português na Alemanha. Mas o livro vale por todas as histórias lavradas pela caneta e no sentir do que é estar distante de Portugal.
Os contos são todos inéditos?
Sim, os contos dos autores vivos são todos inéditos.
E por que razão optaste por juntar a voz de dois clássicos da literatura à voz de dez escritores contemporâneos?
Só para tentar dizer que também os escritores clássicos viveram fora do país. Eles foram tão emigrantes como nós. Muita da obra do José Rodrigues Miguéis, por exemplo, incide sobre temáticas da emigração. E o Eça de Queirós…
O Eça foi Cônsul em Paris.
Sim, foi, de certa forma, emigrante, tendo falecido em Paris, como se sabe. Essa ideia surgiu-me assim muito espontânea. Mostrar que os problemas da emigração são muito parecidos independentemente da época. O que eu espero é que as pessoas que leiam este livro se apercebam que mesmo autores que ficaram na História da Literatura viveram as situações que os emigrantes de hoje vivem.
Esperas uma boa receção da obra por parte do público português?
A obra também vai ser distribuída em Portugal pela Europress, a empresa distribuidora com a qual a Oxalá colabora. E na Diáspora, temos contactos com algumas livrarias e vamos também fazer a promoção da obra em muitos países e em quase todos os continentes. A recepção e a aceitação que o livro dependerá de muitos fatores. Mas o que posso desde já dizer é que vale a pena ler este livro para melhor perceber os Portugueses das sete partidas do mundo.
Mário, para terminarmos, fala-nos de um livro de que tenhas gostado.
Assim de repente, sugiro o Primo Levi.
Qual? O “Se isto é um homem?”
Exatamente! As pessoas que vivem no nosso tempo deveriam ler esse livro, que retrata o sofrimento das vítimas do Holocausto, num momento em que os governantes dos grandes países amedrontam o mundo com discursos belicistas e perigosos para a humanidade.
Os contos da coletânea:
- «A salto» de Ana Cristina Silva
- «Vida adiadas» de Cristina Torrão
- «Um poeta Lírico» de Eça de Queirós
- «Cab driver» de Gabriela Ruivo Trindade
- «O apelo do vale» de Isabel Mateus
- «O viajante clandestino» de José Rodrigues Miguéis
- «Uma história verdadeira» de Luísa Coelho
- «A minha bicicleta verde» de Miguel Szymanski
- «O sobrinho» de Nuno Gomes Garcia
- «Partida largada fugida» de Rita Sousa Uva
Entrevista realizada no quadro do programa «O livro da semana» na rádio Alfa, apoiado pela Biblioteca Gulbenkian Paris. Publicada em 26/03/2018 em https://www.oxalaeditora.com/conto-iemanja/nuno-gomes-garcia-conversa-com-m%C3%A1rio-dos-santos/. Acesso em: 05 out. 2019.
Cap Magellan conversa com Nuno Gomes Garcia
Cap Magellan: Como acolheste o convite que te foi feito para participares na coletânea?
Nuno Gomes Garcia: Pensei imediatamente que era por uma boa causa. Não apenas porque os direitos revertem a favor da Plataforma de Apoio aos Refugiados, mas também por permitir a bons autores, quase todos expatriados, escreverem sobre um tema que inexplicavelmente é pouco tratado na literatura contemporânea portuguesa: a emigração. Um país que possui um terço dos seus cidadãos a viver fora do território português e que finge que a emigração não é uma componente estrutural da sua sociedade há mais de 500 anos está condenado a ser um país que não se compreende a ele próprio. Se Portugal tem 5 dos seus 15 milhões de nacionais a viver no estrangeiro, esse facto tem de se refletir obrigatoriamente na sua matriz cultural, nomeadamente na literatura.
CM: Porquê utilizar a metáfora dos legumes?
NGG: A minha escrita, acho que é visível em todos os romances que escrevi, leva-me sempre a expor as minhas inquietudes através da sátira e do “tremendismo”, no exagero. Ora, uma das coisas que mais me inquieta hoje na Europa é o regresso às questões identitárias, o recrudescimento dos nacionalismos protofascistas presentes em alguns governos e de outros componentes abertamente fascistas em algumas franjas da sociedade.
Como, a meu ver, não existe nada de mais ridículo, mesmo do ponto de vista da comicidade e do humor, do que um certo povo se sentir superior a outro, ou do que um ser humano odiar outro ser humano por causa da cor da sua pele, por exemplo… tendo isso em vista, eu tentei fazer a experiência de transportar toda essa problemática para o mundo dos vegetais.
Só para que o leitor compreenda que ver uma cenoura a odiar uma beterraba, ambas antropomorfizadas, por causa da cor da sua “casca” é tão absurdo como um humano odiar outro humano por causa da cor da sua pele, da religião ou da orientação sexual.
CM: A emigração é somente feita de mulheres e homens que sofrem de sonhos? Não achas que pode ser um pouco miserabilista como forma de apresentar a emigração?
NGG: Não creio que se possa reduzir os dez contos ao título da coletânea, que é por natureza subjetivo e que tem um certo pendor poético. O livro contém dez maneiras diferentes de olhar para o fenómeno da emigração. Dez contos que mostram as complexidades ligadas ao simples facto de trocar uma realidade social por outra. Se há emigrantes que realizam os seus sonhos, outros há que vivem autênticos pesadelos. O sofrimento, tal como as alegrias, são sentimentos inerentes à vida, logo também inerentes à emigração.
Disponível em: http://capmagellan.com/a-coletanea-contos-da-emigracao-chegou-as-livrarias/. Acesso em: 05 out. 2019.
Que possamos logo encontrar «Contos da emigração: Homens que sofrem de sonhos» em formato digital e, quiçá, em nossa livraria preferida!






































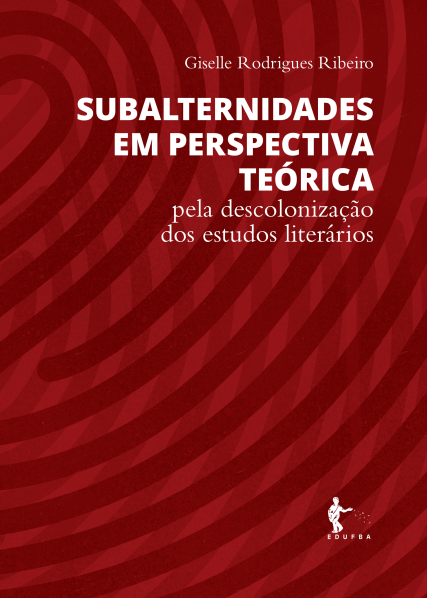


Você precisa fazer login para comentar.